
Neste último conflito a «auto-defesa» imerge como a maior verdade conceptual de todas e como sinal dos tempos. É certo que, na génese do Estado de Israel e na psique dos seus fundadores, na sua grande maioria sobreviventes do extermínio nazi, estava uma arreigada convicção de que viviam sob permanente ameaça, ou não fossem eles e elas testemunhas vivas da barbárie humana em todo o seu horror levada a cabo por Hitler e seus sequazes.
No estertor da solução final e na libertação da Europa do jugo nazi, quando estas massas de judeus que haviam sobrevivido ao Holocausto começaram a afluir à Palestina, finalmente tornando realidade a tese sionista do regresso à terra santa, a tese que desde o século XIX pregava a necessidade do estabelecimento dum Estado Judaico a constituir algures na Galileia, elas precisaram de terra e de água para se estabelecer e sobreviver.
A princípio, tudo corria bem, compravam essa terra e organizavam-se em kibutzses mas, com o passar do tempo e o afluir de cada vez mais judeus à região, foi preciso «adquirir» mais terra e mais água, bens escassos na zona, sobretudo a água.
Os que lá estavam não viram com bons olhos as técnicas cada vez mais perturbantes da «aquisição» de terras e tornaram-se violentos. Israel defendeu-se com as tácticas pouco ortodoxas do Haganah («Defesa») e do Irgun («Defesa B», claro) e prevaleceu.
Enquanto isso, diversas nações árabes, no contexto da Guerra Fria e com o apoio militar da União Soviética e seus satélites, tentam varrer Israel do mapa e são sucessivamente derrotas pelas IDF (Forças de Defesa de Israel, pois claro), assistidas pelos EUA, em guerras relâmpago que entusiasmam o Ocidente e, paradoxalmente, seduzem as Esquerdas europeias, embaladas na mensagem poética do conceito de kibutz, para a causa Israelita.
Com as importações de mais judeus da Rússia e da Etiópia foi preciso cada vez mais terra e mais água e Israel continuou a defender-se dos locais, os árabes que viviam na Palestina e que se viam confinados à terra menos fértil e a condições de vida inferiores às dos vizinhos.
A situação foi-se degradando com a criação de colonatos judaicos e com a expansão do Estado de Israel; as sucessivas guerras defensivas encetadas para proteger essa expansão ao arrepio do Direito Internacional haviam empurrado os autóctones para o mar, onde a maioria vivia em campos de refugiados. Este povo, apátrida na sua própria terra, desenvolvera um sentimento nacional que cristalizara na criação da OLP.
A OLP iria levar a guerra ao coração emocional do inimigo, por vezes de forma infame como no atentado Olímpico de Munique em 1972, outras de maneira heróica, como na Primeira Intifada (Guerra das Pedras), mas de qualquer forma longe dos padrões de guerra subversiva que viriam a ser estabelecidos pelo 11 de Setembro de 2001.
Por fim, em 1993 Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, dois líderes notáveis, baixam a guarda e assinam os Acordos de Oslo. No entanto, o assassinato de Rabin às mãos dum radical judeu fere de morte o processo de paz e a situação degrada-se ainda mais, com a criação de cada vez mais colonatos em zonas nominalmente e de facto palestinianas.
Recorrendo à política dividir para reinar, Israel defende-se da Autoridade Palestiniana entretanto criada e que perdia o controlo sobre os próprios militantes mais radicais, instigando, ironicamente, a criação do Hamas, com o intuito de minar definitivamente a base de poder de Arafat. Com a sua autoridade a esvair-se Arafat morre, finalmente, um homem só.
No vazio de poder provocado pela morte de Arafat o Hamas, apoiado pelo Irão e com a cumplicidade da Síria e do Egipto, estabelece uma eficaz rede de segurança social gratuita e rapidamente se afirma como liderança alternativa aos olhos do povo palestiniano nos territórios do sul.
Enquanto isso se desenrola, Ariel Sharon retira de Gaza, a grande custo, os oito mil colonos que para lá se tinham começado a instalar e inicia a construção dum muro, de facto estabelecendo o limite fronteiriço de Israel, ou pelo menos assim o julgaria, antes de sofrer uma trombose em 2005.
A ascensão ao poder do Hamas na Autoridade Palestiniana é confirmada em eleições livres realizadas em Janeiro de 2006. Essa ascensão não é reconhecida nem por Israel nem pelo Ocidente, assustados com o radicalismo religioso do movimento, bem como pela sua declaração de princípio que nega a existência do Estado de Israel e lançam-se as bases dum embargo militar e económico internacional.
Segue-se uma guerra civil nos territórios palestinianos, entre os radicais recém-eleitos e a Fatah de Mahmoud Abbas. Em Gaza, os radicais assumem efectivamente o poder e começam uma campanha de lançamento de mísseis para lá do muro; estes quase ninguém matam mas, potenciado pelos media israelitas, o efeito psicológico das sirenes e da corrida para os abrigos é tremendo.
Em 2006 dá-se a II Guerra do Líbano, uma expedição defensiva a norte de fins limitados, ao contrário da I Guerra do Líbano, com o intuito de neutralizar outro movimento extremista, o Hezhbolah, que rapidamente se transforma num aparente desastre de relações públicas, embora pareça ter atingido os seus fins operacionais (desde então o Hezhbolah, salvo raras excepções, absteu-se de lançar mísseis sobre a fronteira norte de Israel).
Então, Israel vira as suas atenções para o flanco sul. À medida que as Forças de Defesa Israelita se treinam em maquetas de aglomerados urbanos similares aos de Gaza e se aperta o bloqueio, sucedem-se os incidentes fronteiriços.
Finalmente, munido dum casus belli coerente i.e., «o direito à auto-defesa», aproveitando o calendário da transição de poder nos EUA e com o apoio popular da generalidade da nação judaica, Israel inicia uma brutal expedição defensiva em Gaza, mais uma vez de fins limitados, mas desta feita empregando, ao contrário do que sucedera na II Guerra do Líbano, recursos militares aparentemente adequados à tarefa.
Contudo, parafraseando os defensores da causa israelita contra si próprios, «será que o direito à existência de uma nação [a palestiniana do Hamas, de acordo com as mesmas fontes] implica o aniquilamento de outra? [a israelita, presume-se, vítima do princípio de intenções do Hamas]».
Depende, digo eu. depende dos objectivos daquilo que se pretende, o sonho da Grande Israel? Ou por outra, até onde vai o direito à «auto-defesa» quando temos o terceiro ou quarto exército mais eficaz e mortal do mundo e o podemos utilizar sempre que ajuizámos acertado sem que ninguém se atreva a meter connosco?








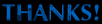
|