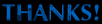Tenho andado ocupado a reflectir nos últimos dias (sim, ao fim de trinta e tal anos de vida parece-me que já não era sem tempo). Não tenho chegado a grandes conclusões, também é um facto, mas pelo menos tenho ganho em paz de espírito e em certezas. Uma delas é a de que quanto mais leio menos gosto de escrever e de que quanto mais escrevo menos gosto de ler. Não respeito o díptico que eu próprio recomendei vezes sem fim aos jovens que, nos últimos anos, me pediram para ler os seus escritos: «Lê, lê, lê; escreve, escreve, escreve.»
Alturas houve em que a percepção da minha própria incapacidade de passar a escrito ideias, sentimentos, acções, sincronias, personagens, dramas, vontades e paixões me desalentou e me deprimiu. Inconstante e preguiçoso em tudo o que faço, cheguei a atribuir a esses pecadilhos a minha crónica falta de talento.
Para além disso, apoquentava-me ainda uma noção difusa de que tudo o que haveria para ser dito, ou neste caso escrito, já teria sido passado a papel impresso milhares de vezes no passado e de formas muito mais impressionantes do que aquelas que alguma vez pudesse conceber; por muito que lutasse contra os meus crónicos defeitos da falta de perseverança, do egotismo que sempre me corroeu e, claro está, da minha preguiça genética.
Hoje, no entanto, e já que para algum motivo o Criador me dotou de juízo, julgo saber um pouco mais sobre essas matérias, por triviais que possam aparentar ser.
É certo que o meu sonho de juventude, quando a leitura de Álvaro de Campos me galvanizava na busca de palavras temperadas a aço e a de Camuss as corrompia enternecidas a passo de amante desregrado, e a de Kafka as deixava perplexas num quarto sombrio de noite
escaravelhado, ao mesmo tempo que a de Tolstoi as avassalava numa grandeza de cenários tão presentes quanto irrealmente actuais, e a de Dostoievsky as dilacerava com o recurso a um machado linguístico de remorsos escondidos numa pensão bafienta a saber a alho, urina e sangue, algures numa Rússia que sem ter conhecido encontrei depois vezes sem conta, nas obras que iam dar a lado algum na margem sul do Tejo (pele queimada, bolhas nas mãos), na venda de seguros de vida aos ricos que deles não precisavam mas gostavam de comprar porque é isso que os ricos fazem, na divulgação agressiva de medicamentos que a ninguém importavam a não ser aos accionistas leitores do
Finantial Times, essa vida, esses livros, esse sonho - é verdade -, esse jamais será cumprido: nunca serei um escritor na verdadeira acepção da palavra; nunca serei alguém que escreve algo que altera radicalmente o entendimento das pessoas, de tão brilhante, de tão ofuscante, apaixonante, exaltante, visceral, repugnante ou - em suma - imoderado que seja.
Isso, contudo, se em outras épocas me deixaria desalentado, hoje encaro-o com a tranquilidade dos olhos que tanto ou nada viram e das mãos que quase nada escreveram numa luta pela paz, pela lucidez, pela compreensão, luta interior do indivíduo só confrontado desde cedo com a sua mortalidade e que já se vai prolongando há algumas décadas. Olarila.
Sei perfeitamente que estou em conflito. Se o não estivesse, não escreveria. Escrever é um estado emotivo de insatisfação e uma necessidade de fugir ao vazio; de certo modo, escrever é uma doença, até porque escrever é uma das mais solitárias ocupações que existem: o que dizer, como dizê-lo, como olhar para o papel, para o monitor, para o espaço, como saber se o que se disse é acertado ou, pelo contrário, embaraçoso, terrível, asqueroso?
Quem escreve, não nos iludamos, escreve só, é ele próprio, ou ela, nestes tempos politicamente correctos em que as palavras escritas (ou a banda desenhada, ou os
cartoons como dizem os súbditos duma dada religião) insultam mais do que um murro nos cornos, bem aplicado, a fazer saltar dois ou três dentes, ele ou ela própria, sozinha, sozinho, absolutamente só, só com os objectos, com as as ferramentas que são as palavras, as ideias, os sentimentos, os truques do ritmo, da sintaxe, da gramática, da pontuação, dos piques e dos clímaxes, dos dramas, das liberdades, da morte, da vida e... Sim, do medo.
Porque quem escreve, lógico, não escreve no vácuo. Escrever é dizer algo ao outro, às pessoas, que estavam tranquilamente em suas casas e se lembraram: deixa lá ler o que este sujeito tem para dizer: vivo no séc. XXI mas sou moderno, gosto muito de ler e ainda mais de levar um clássico debaixo do braço para o trabalho.
Pois, escrever não é nada fácil, alcançar a excelência in media res escrita, muito menos. O díptico que mencionei há uns parágrafos atrás, ajuda, embora também frustre: comparar os nossos míseros esforços com o labor de gigantes arrasa, destrói veleidades e faz de nós anões, mas não devemos afogar-nos na mágoa, assobiar para o lado, ter uma vida burguesa e habituarmo-nos à nossa mesquinhez.
Bem pelo contrário. Ler, ler, ler; escrever, escrever, escrever, para este tipo de pessoa que acabo de descrever, não é uma receita: é um prazer.
E bem, a noite vai curta, faltam-me as musas. Tenho que as ir procurar, não é? Antes de ir, digam-me lá, aceitam um chocolatinho?