
Estou em Luanda, tenho cinco anos e um par de sapatos novos. São sapatos pretos de couro e são muito bonitos, embora me magoem os pés. Tenho fome, mas a minha mãe não tem nada para comermos. Mentira, tem um pacote de bolachas, só que mesmo com fome não gosto de bolachas, nunca gostei e na verdade nunca virei a gostar. Estamos aqui há uma data de tempo e sinto falta do meu amigo Biré, o qual nunca mais voltarei a ver.
Não sei porque estamos aqui. Só sei que estamos em Luanda porque ouvi dizer num altifalante e sei que o que se diz num altifalante é sempre verdade. Luanda, Julho de 1976. 23 de Julho de 1976. O Vôo para Lisboa está atrasado. E nós estamos aqui cheios de fome e o meu pai mandou um berro à minha mãe e o meu irmão quase acordou e eu fiquei cheio de medo porque há aqui uns pretos vestidos de verde com espingardas e com cicatrizes na cara que metem medo e falam aos berros com toda a gente – até com os outros pretos.
Tudo tem sido muito estranho nos últimos dias. Estamos no aeroporto de Luanda e nunca aqui tínhamos estado. “Aeroporto”. É uma palavra nova que aprendi ontem, quando o meu pai acabou de fazer a barba e disse à minha mãe que tínhamos de ir para o “aeroporto”. Sei que é um aeroporto porque o meu pai disse. É um aeroporto azul, todo pintado de azul, mas não há água e há mais pretos do que no outro aeroporto, donde vimos, lá atrás, na minha terra, na nossa casa, em Lourenço Marques.
Estes pretos daqui são estranhos e feios e há alguns que devem de ser maus. Parece que nenhum deles gosta de mim, o que é muito estranho. Ainda agora mesmo uma preta falou mal para a minha mãe. E a minha mãe teve de se calar. O meu irmão até acordou e desde aí não pára de chorar. Estamos aqui há uma data de tempo e não há nada para comer a não ser bolachas e eu não gosto de bolachas.
Os meus sapatos são muito bonitos. São sapatos de homem, parecidos com os do meu pai. Ele está preocupado. Acho que nunca vi o meu pai tão preocupado. Nem naquele dia em que lhe tirei o isqueiro de ouro e o oferecei ao outro menino branco que morava no andar em frente ao nosso. O meu pai ficou muito chateado e disse que eu era um ladrão. Fiquei muito triste, não sei o que é um ladrão, mas sei que é mau ser um ladrão.
Os meus sapatos são realmente bonitos, têm uns furinhos que não são furos verdadeiros e brilham e reflectem a minha cara e quando bato com eles no chão fazem um barulho engraçado. Porque é que o meu irmão não se cala, isso é que não me sai da cabeça, estou a ficar farto do cheiro deste aeroporto e estou a ficar farto do choro dele.
O meu irmão nunca diz nada e só chora e a minha mãe não me liga nenhuma, só pensa nele e se calhar já não gosta de mim. O meu pai anda de um lado para o outro e também não me liga nada, também nunca ligou a não ser para dizer que eu era um ladrão, mas não gosto nada disto, não gosto daqueles pretos com espingardas, não gosto nada de nada e quero voltar para Moçambique, quero voltar para casa.
O que é que estamos a fazer aqui? Isto é Luanda, é África, mas já não é Portugal, mas isto é muito feio, não gosto deste azul, deste aeroporto pintado de azul e tenho sede e fome, mas não gosto de bolachas, nunca gostei. Há pouco uma preta que andava a varrer passou por mim e disse-lhe que tinha fome e ela riu-se de mim.
Não gostei e tive vontade de lhe dizer ”merda para si” mas havia um preto de espingarda ao lado e o meu pai disse que tinha de estar calado e eu calei-me e olhei para os meus sapatos e gostei do brilho deles e calei-me.
Os meus sapatos pretos são bonitos, mais bonitos do que a dentadura do preto da espingarda, são sapatos bonitos, pretos e brilhantes; sapatos de homem, mas tenho fome e tenho sede e estou farto de Luanda.
Quero ir embora, quero voltar para casa, andar no meu triciclo e brincar com os meus amigos, mas o pai diz que já não voltamos mais, o pai diz que Moçambique acabou, diz que vamos ter com os avós, lá em Portugal.
Gosto muito do meu avô e ainda mais da minha avó, dão-me montes de brinquedos e levam-me a montes de sítios muito giros e com pessoas ainda mais giras. Uma vez, fomos a um sítio, lá no norte, no Minho, em Vilar Formoso, e havia um senhor que era maestro eu não sabia bem o que isso é, chamava-se Vitorino de Almeida, e de repente a luz foi abaixo, e esse senhor sentou-se a um piano, só à luz de velas, e tocou uma música que encantou toda a gente e toda gente dançou e a minha avó deu-me beijos e eu gostei muito.
Voltámos para o Porto, e a minha avó comprou-me um tractor, da outra vez em que fui a Portugal, e eu e o meu primo brincámos lá na quinta, de tal maneira que um dia o tractor estava feito em pedaços, mas a minha avó não me bateu e até disse ao meu avô:
“Vê lá tu, os rapazes desmontaram o brinquedo todo!”
Tenho a certeza de que os meus avós vão gostar dos meus sapatos novos. Vão dizer que sou um homem quando lhes mostrar os meus sapatos novos! E do meu fato novo, então, ah, nem imagino o que o meu avô vai dizer quando vir o meu fato novo. Vai dizer que sou um belo cavalheiro, sim, o meu avô vai dizer isso mesmo: “Estás um belo cavalheiro, rapaz!”
Saímos ontem de casa. Foi esquisito. O meu pai estava na casa de banho a fazer a barba e, quando terminou, pegou no molhe de chaves, deitou-o na sanita e puxou o autoclismo. Não percebi o que o meu pai fazia, o meu pai nunca deitava nada fora e andava sempre preocupado com as chaves, sempre à procura delas e foi esquisito ele fazer aquilo, mas até que achei piada e ri bastante e acho que foi das poucas vezes em que o meu pai se riu comigo. O meu pai deitava a sua vida na sanita e eu ria e ele teve a oportunidade de se rir comigo e pensando bem se calhar essa é uma das razões porque gosto dele.
Depois, a minha mãe vestiu-me e calçou-me os sapatos novos. Pretos. Estes sapatos de homem que calcei pela primeira vez. A última vez em que senti na pele o cheiro de Lourenço Marques. O caminho até ao aeroporto. O senhor preto que se tinha vindo a chorar despedir do meu pai e o meu irmão que dormia.
Estava triste a minha mãe, triste como no dia em que eu quase morrera afogado na piscina, lá naquela piscina do Hotel de Nampula, naquela piscina comprida, quando me deixei escorregar para dentro dela, quando fiquei sem pé, mas não me desconcertei porque não tinha idade para isso e fui caminhando na borda da piscina, sempre debaixo de água, sempre sem pé e à procura do ar, e, por fim, quando acordei, vomitava água pela boca e nariz, um senhor que nunca vira magoava-me o peito com as mãos rijas e a minha mãe chorava como nunca a tinha visto chorar.
Sim, os meus sapatos são muito bonitos e não há nada para beber ou comer aqui, nem percebo o que aqui estamos a fazer. Foi uma confusão. Nunca esquecerei, ao acordar da minha morte prematura, o suspiro de alívio da minha mãe. Amo-a, sem dúvida, e julgo mesmo que essa terá sido uma das minhas primeiras recordações, mas hoje isso não interessa nada.
O que interessa é que tenho uns sapatos bonitos e que quero ir para casa, ou, então, pelo menos, ver outra vez os meus avós. O sorriso da minha avó e o abraço do meu avô.
Vamos embora. Até que enfim, até que enfim que vamos embora, até que enfim que vamos apanhar um pássaro de ferro – são bonitos estes pássaros de ferro. “É da TAP, é da ponte área”, diz um senhor no banco da frente, antes de cair exausto no seu assento. É branco e é um homem feio, deita ranho do nariz e tem aspecto de doente. Não gosto dele. Olho para os meus sapatos novos e tenho saudades dos meus amigos. Do Carlos, do Júlio e do Biré. Sobretudo do Biré. É o meu melhor amigo.
O homem vira-se para mim e ri-se, todo babado. Não compreendo a sua alegria, até porque eu, eu estou mesmo farto do choro do meu irmão. Mas o homem ri para mim e o meu irmão não pára de chorar e a minha mãe está cansada e eu estou cansado e o meu irmão não pára de chorar, quase como se fosse ele que tinha deitado a sua vida pela sanita, quase como e soubesse que o seu pai, a sua mãe e o seu irmão estivessem a morrer aos poucos naquele dia.
O homem do banco da frente, ou por pudor ou por cansaço, ensaiava calar-se. O meu irmão chorava e endoidecia toda a gente dentro do pássaro de ferro. Podia dormir e não fazer mais barulho, afinal ele não sabia nada de nada e eu nunca mais veria os meus amigos, mas nem por isso eu desatava a chorar como ele. Eu, eu era um homem.
Assim, a doer, à força, com o Biré a milhares de quilómetros de distância, lá longe, cada vez mais longe, só, longe de mim, de nós, num verão de 1976, perdido algures em África. E o homem branco do banco da frente, finalmente, saber-se-ia lá porquê, calara-se. O pássaro de ferro descolara e Luanda ficava para trás.
No dia seguinte, lembro-me como se fosse hoje, estava no aeroporto da Portela, os meus novos sapatos pretos brilhavam ao sol e os avós cobriam-nos a todos de beijos, até ao meu pai, que não era da família deles. Esse, sem dúvida, foi um dos dias mais felizes das nossas vidas.








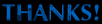
|