
Numa noite de 1989 entrou no Bairro do Lagarteiro, no Porto, um jovem em busca de haxixe. Não havia ganza no bairro e era já a terceira noite consecutiva em que não havia. O dealer do jovem sugeriu-lhe então que levasse um pacotinho de heroína. Explicou-lhe como aquilo se fumava na prata e até lhe fiou o pacote, dizendo-lhe que se não gostasse não precisava de o pagar.
Esse rapaz, era eu.
Adorei a minha primeira moca. Foi, literalmente, fantástico; a sensação de paz interior, de leveza física, de lucidez intelectual, de clarividência, que a minha primeira heroína me proporcionou, é algo que permanece, tantos anos depois, gravado a caramelo quente neste humilde cérebro.
Foi apenas o princípio de uma longa odisseia, ou descida aos infernos, como quiserem chamar-lhe. Nos primeiros tempos, fumava apenas um pacote por semana (nas noites de quinta-feira, com Tom Waits na aparelhagem, o ritual perfeito). Ao fim de um mês, passei a fumar duas vezes por semana. No segundo mês, o dealer tinha uma barganha para mim: um pacotão de cinco gramas de grande qualidade e a preço reduzido. A partir daí, passei a consumir todos os dias.
Na altura, tinha um emprego bonito, estava a acabar o meu primeiro curso e tinha entrado para os quadros dum jornal importante. Em menos de três anos consegui realizar a proeza de ser despedido, apesar de toda a gente considerar que era um jornalista promissor; chegara a trabalhar 16 horas por dia sem ganhar um tostão extra: fazia-o por Amor ao Jornalismo. No entanto, fui convidado a sair porque a minha vida secreta tinha deixado de o ser.
Virei costas ao Porto e regressei a casa dos meus pais. Eu era bom a enganá-los (ou seriam eles que não queriam acreditar nos indícios que se iam acumulando) e para além de vários empregos de merda que sustentavam o vício até arranjei uma namorada que mais tarde veio a ser a minha primeira mulher.
Nesse tempo, a minha rotina era muito simples: precisava só de um conto por dia para comprar o meu pacote. Vá, cinco contos quando queria um risco de coca. Conduzia camiões, fazia de locutor numa rádio local, vendia terrenos, o que fosse preciso. E, como regra geral só fumava um discreto pacote diário, lograva ocultar dos outros o meu vício e até convencer-me a mim próprio de que tinha o assunto sob controlo.
Em 1994, a sorte que eu tantas vezes desprezei ao longo da vida voltou a sorrir-me. Arranjei um emprego bem remunerado (350 contos limpos por mês mais carro para uso total) e mudei-me com a minha mulher, entretanto tínhamos casado, para uma casa que alugámos na Lapa.
Ela sabia que eu me drogava mas na sua inocência acreditou que me poderia mudar, ou se calhar pensou que mil paus por dia não era assim tão grave. Sinceramente, não sei. E nunca o saberei visto ela ter falecido num estúpido acidente de moto já depois de nos termos divorciado. Sei que estava completamente louca, absolutamente deslumbrada por mim e tenho muita pena de não ter tido a hipótese de lhe pedir desculpa.
Quando viemos para Lisboa passei a frequentar o Casal Ventoso. Vocês não podem imaginar o que era o Casal nos meados da década de noventa. Era preciso lá ter estado. Por dia, afluíam ao “super-mercado de droga da Europa”, milhares e milhares (sim, leram bem) de consumidores. Milhares e milhares de contos mudavam de mãos todos os dias.
No Casal havia de tudo. Desde pessoas completamente nas últimas, farrapos humanos, até gajos de fato Armani e gravata de seda, como eu. Até havia polícias envergonhados na bicha do cavalo.
E pregões: “Olha ó pó da Porta Verde!” “Castanha e Branca, a melhor é a do Velho!” “Compras duas quartas e levas uma de borla na Porta Amarela!”. Assim, à luz do dia, sem falsos pudores nem cá tretas de “esconde aí essa cena porque tás a ver é uma cena que ninguém pode saber”. Não, tudo se passava às claras, paredes meias com a Avenida de Ceuta, paredes meias com uma cidade a abarrotar de hipocrisia e onde o cavaquismo agonizava, felizmente, como numa feira de domingo muito concorrida, onde a única diferença residia no facto de que aquilo que se vendia, pois – matava. E não matava tão poucos quanto isso. “Mortalhas, seringas, amoníaco, prata, limões!”
À medida que o tempo passava os meus hábitos de consumo foram-se alterando. Um pacote já não me chegava: precisava pelo menos de uma quarta de grama por dia; isso dava-me sensivelmente cinco fumos: um ao acordar, ainda antes do pequeno almoço, outro a seguir, um depois de almoço, outro à tarde e finalmente um, quando vinha bem aviado dois, à noite.
Como devem calcular, a primeira coisa a ressentir-se foi o meu casamento. Por dois motivos: o dinheiro começou a escassear cada vez mais e eu não fazia amor com a minha mulher (é, a heroína corta completamente a tesão). A segunda foi o meu emprego. Como é que um gajo podia trabalhar se passava o dia enfiado no Casal Ventoso?
Mas eu era bom a enganar os outros e parecia ter um sexto sentido que me avisava quando tinha de ir trabalhar. Sendo delegado de Informação Médica tinha ampla liberdade de movimentos e não me era muito difícil falsificar os relatórios das visitas que supostamente efectuava. E o meu sexto sentido avisava-me sempre dos dias em que os meus chefes apareciam de surpresa nos hospitais a confirmar se eu realmente lá estava.
A coisa foi-se arrastando, arrastando nesta miséria, de mal a pior. Corria o ano de 1999 e o Casal estava prestes a ir abaixo. Tornava-se cada vez mais difícil encontrar droga e muitas vezes quando se encontrava não valia um caralho. A despesa com o pó subia astronomicamente para os 10, 15, 20 contos por dia. A economia doméstica entrara numa espiral de pedidos de crédito atrás de pedidos de crédito e a Conceição estava cada vez mais desesperada.
Entretanto, para dilatar a moca, passara a meter também valiums e reupnois. Como isso me dava sono, para contrabalançar metia ainda anfetaminas e fumava bases de coca. À pala disso, em dois anos tive perto de 20 acidentes de automóvel. A sorte, o acaso, Deus, seja lá o que for, tirou-me de todos eles sem um arranhão.
Nem sei como é que os gajos da empresa toleraram essa situação durante todo esse tempo, afinal eram os prémios de seguro deles que subiam em flecha e penso que se estivesse no lugar deles teria chegado à conclusão de que um gajo que tinha um coeficiente de acidentes tão alto apresentava problemas graves, muito graves. Mas não o fizeram.
Afinal, no princípio do Verão de 1999, tudo chegou ao fim. A Conceição deixou-me, o emprego perdi-o, o senhorio da casa mudou-me as chaves da fechadura e passei a viver num carro que entretanto tinha adquirido, ainda a crédito.
Aguentei assim durante umas três semanas. Dormia no carro e durante o dia fazia “serviços” de taxi mais baratos a outros drogados.
No dia 23 de Junho de 1999, estava eu a fazer a barba numa casa de banho do centro comercial Colombo e no espelho aquela cara que não reconheci disse-me que só tinha duas opções: ou o pó me matava ou eu matava o pó.
Nesse dia, empenhei os meus documentos por gasolina e arranquei para a costa da Arrábida. Tinha duas paletes de downers e passei os três dias seguintes a dormir. Depois, acabaram os comprimidos e veio a ressaca. Já era magro mas na ressaca ainda perdi uns bons dez quilos: diarreia; desidratação; centro de saúde. Sem documentos. Uma médica que me olhou como se tivesse lepra e me receitou coca-cola sem gás, arroz carolino sem refugados. E foi assim um esqueleto humano aquele que se apresentou em casa dos pais a pedir ajuda.
O meu pai mandou-me foder, sem contemplações, mas não lhe levo a mal por isso. O meu pai é médico e sabe que não se pode confiar num tóxico, até porque ele já intentara ajudar-me por mais de uma vez e eu o enganara. Como é que ele podia saber que desta vez era a sério? Amo-te pai, amo-te muito.
Já a minha mãe, porque é mãe, agarrou-se ao telefone e passou o dia a telefonar a familiares e amigos a ver se alguém me podia acolher. Todos se cortaram. Todos. Até um cabrão que foi criado comigo e que me devia respeito.
A salvação chegou de onde menos se esperava. O meu meio irmão Pedro, que não via pelo menos há uns 10 anos e de quem nunca tinha sido íntimo, aceitou falar comigo.
A minha mãe levou-me a Lisboa e o meu irmão estava à nossa espera na rua Castilho. Entrei no carro dele e a chorar contei-lhe tudo. Disse-lhe que queria mesmo mudar mas que precisava no mínimo dum tecto e de comida.
Escutou-me e então falou. Nunca mais me esqueci da maneira como me olhou, dos seus olhos tão parecidos com os do nosso pai, e da sua voz brusca, a voz de alguém que sabe que está a correr um risco enorme, quando me disse, secamente: “Vai dizer adeus à tua mãe, vens para minha casa.”
O Pedro chateou-se com a mulher para me receber no apartamento deles. Ouvi-os discutir enquanto eu esperava na sala e senti-me mal, muito mal. Mas quando voltaram do quarto ela trazia para mim um sorriso lindo, um sorriso lindo como poucas vezes me voltaram a oferecer. E, nas semanas seguintes, todos eles, o Pedro tinha dois filhos (digo tinha porque agora são três) deram-me aquilo de que eu mais precisava: a sua confiança e o seu amor incondicional.
...........................................
Faz sete anos que estou limpo. Desde então, todos os dias 23 de Junho, cumpro um ritual elaborado que passa por relembrar o passado e tentar ser mais justo comigo e com os outros. Aos poucos, refiz a minha vida. A pulso. Não julguem que tem sido uma brincadeira de crianças. Mas refiz a minha vida e não devo dinheiro ou satisfações a ninguém. Sou um homem livre.
No momento em que vos escrevo e apesar de no princípio deste ano me ter separado da única mulher que realmente amei e se calhar ainda amo, sinto-me forte, sinto-me capaz, sinto-me lúcido e dou cartas naquilo que faço. É que possuo uma garra de viver que nem imaginam. Nem sonham.
Tudo isto vem a propósito de um texto que li – da autoria de um amigo do meu melhor amigo – e que me perturbou, se calhar sem razões para isso, mas ao ler esse texto foi como se me visse ao espelho, quando tinha vinte anos. Foi como se visse como eu fui, um jovem talentoso a começar uma bonita carreira, como eu fui, um jovem seguro de si que achava piada em tomar umas drogas e em dizê-lo ao Mundo sem meias medidas.
O autor dava conta dos prazeres de tomar LSD. Tem uma certo humor macabro, é das poucas drogas que nunca meti, mas isso não vem para o caso. O que vem para o caso é que não meti mas podia ter metido. LSD, Coca, Heroa, ao fim e ao cabo não é tudo farinha do mesmo saco?
Só lhe quero dizer mais uma coisa. Sei que sou um paternalista do caralho, mas não sou um falso moralista, não acredito em milagres e não sou um hipócrita; bebo os meus copos e fumo as minhas ganzas, nem mais, nem menos. Contudo, heroína não voltou a entrar neste organismo e LSD penso que nunca entrará; nem este tipo imperfeito voltou a ser um dependente, do pó ou seja lá do que for. Como disse, sou um homem livre que ama a Liberdade. E pago o preço que for preciso. Não tenho medo. Se quiserem, viciei-me em ser livre. Assim sendo – meus amigos – se o que desejam é drogarem-se, então, droguem-se.
Estejam é bem cientes dos riscos em que incorrem.








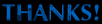
|