
Acordo às sete da manhã com o nariz inchado e a vista toldada dos lisos de ontem. Com uma fuça de meter medo e de cuecas lilás preparo um vodka branco, calço meias amarelo-canário, enfio-me no carro preto e arranco para Coimbra. Vamos à Clínica.
Sempre a abrir, sinto logo a falta dum liso e carrego ainda mais no acelerador. Ela, no banco de trás, descansa, alheia a tudo isso. Estação de serviço de Aveiras. Ao invés do liso, vou por um café e dois galões achocolatados. No banco de trás um vestido rosa-escarlate faz clap, clap, clap. É o vento do turbo a dar-lhe gás. No retrovisor o seu cabelo loiro espraia-se, inocente, nos bancos de couro castanho.
11h25. Estamos em Coimbra. Verde. Azul de Verão e de Vida borbulhante. Ciumenta de alguém que me dá direcções, passa, ciosa do que é seu, rápida, para o banco da frente. A mão aninha-se na minha e sou sacudido por um espasmo violento. O contacto, assim brusco, inesperado, tolda-me por momentos os reflexos e quase bato no carro da frente. Ufa!..
Coimbra, há que séculos que não vinha por estas bandas. A cidade está mudada. Não, não é isso: está só com uma maquilhagem diferente. Deixo-a encarregue a si mesma sem me atrever a beijá-la e parto em busca de uma caneca e das memórias de outros tempos: hotéis, tertúlias, sessões de caça, quintetos de gemidos e suspiros de deboche. Está-se bem. Paro o carro ao pé do Avenida e abanco, descontraído, na esplanada da Praça da República. É a Coimbra da Primavera tal e qual a recordava. De manhã. No Choupal. Na Sereia. No Moçambique. No Trianom.
A casa dos avós do Jorge Silva. A casa dos meus tios. O liceu José Falcão. As serenatas à Cruz de Chelas. Os arcos e a estátua de Camões. Como nos divertíramos nesse tempo, o Jorge e eu... Eramos jovens e íamos mudar o mundo. Na vertigem duma caneta, no grito duma viola e na composição dum livro da demência. Inocentes, os nossos projectos fervilhavam pelas avenidas da mente, espraivam-se no delta dos sentidos e desembocavam na grande praça da razão do Absurdo (sic).
Enfim, o passado a Deus pertence e só a ele. Tem uma grande vantagem e um grande defeito, podemos sempre pintá-lo à medida das nossas conveniências mas é sempre uma cópia e nunca o original. No presente, emborco mais uma caneca e outra ainda. Não é um liso mas sabe bem e faz companhia às codornizes que marinam na chispalhada d’absinto em que se converteu o meu cérebro. Coisa gira, este presente. É algo que está aqui mas já foi e ainda há de vir.
O presente não é algo de que se possa falar. Simplesmente, acontece. Como agora. A olhar as mães que passam na rua e os carrinhos de bebé. A emborcar mais uma caneca e a fumar paivante atrás de paivante. Enfim turvo e liberto de tudo. Dela, do seu vestido rosa e do passado. Quanto ao futuro, bem, esse que se lixe. Invariavelmente, vai ser pintado com os pastiches da incerteza.
“Manuel! Manuel!”
“Sim, olá, como correu, então?”
Senta-se e rapa do telefone só para mexer em alguma coisa e disfarçar o nervosismo. Uma lágrima no canto do olho. Uma lágrima nunca vem só. (As lágrimas adquirem uma tonalidade estranha quando reflectidas num balde de cerveja, agora reparo.) Uma lágrima, duas... Enchuga-se e começa a desbobinar. Às tantas, pelo tom da voz e amálgama de palavras, fico preocupado. Não era caso para menos. Mas, para já, não quero chatices e deixo correr o marfim com uma cara de pedante colada no rosto. Não é burra e repara no meu ar indolente. Então, só para chatear, desembucha tudo de uma vez. Está grávida. Quatro meses e a contar. Enrolo um paivante. Deito-o fora, enfadado, e acendo antes um Lucky Strike. A menina do bar troca comigo um olhar cúmplice. A grande estúpida.

Dou um longa, longa passa. Voluptuosa, saborosa e um tudo ou nada fingida.
“Diz-me, sabes quem é o pai?”
“Não és tu.”
Que simpático da sua parte, como se eu não o soubesse já.
“Então, quem?”
“O Jorge... O Jorge Silva...”
Levanto-me, polidamente, com vontade de lhe apertar o seu lindo pescoço de ninfa.
“Senhor, Senhor!”
“Diga, por favor?...”
“A sua conta...”
Vou pagar e aproveito para me demorar contemplando o rosto ao espelho. A empregada sorri e penso para comigo que tudo seria muito mais simples se estivesse apaixonado pela empregada e não por ela. É bonita sem ser vistosa e alegre sem ser viciosa. Podiamos ser felizes. Sinto a promessa na forma como sorri e no toque dos seus dedos quando me entrega o troco. Mas não. Não vai dar.
Quando regresso ela chora ao telefone com um outro tipo do lado de lá que não era o Jorge e que não era eu e que provavelmente também já fora para a cama com ela. Um dos seus múltiplos “amigos”, dos quais era tão ciosa, e que a mim me exasperavam ao ponto da loucura. Ao ponto de lhe querer bater. Desfigurá-la. Sem compromisso. Arder na fogueira do seu corpo e lambuzar-me todo na chama dos seus olhos, deitar-me com ela e apertar-lhe o pescoço e ver a cor a fugir das suas faces, e o medo – sim o medo – o medo finalmente estampado na sua cara de vaca. Puta!
Pensando melhor, o tipo do telefone não passava dum imbecil. Um imbecil que, tal e qual como eu, não tivera a arte ou o engenho de a prender definitivamente – fazendo-lhe um filho. Saco da carteira e remexo nas notas, como que a certificar-me do meu poder, da minha superioridade. Preciso dum liso. Um whisky. Não, um bagaço. Por muito que deteste beber. Agora. Já!
Saímos. Ainda soluça. Obrigo-a a calar-se com um lenço azul de Caxemira. Recupera rápida e tem ainda tempo para um comentário depreciativo ao perfume do lenço, o que me alegra. Ela não o sabe mas é o perfume de Paula. A Paula dos seios aveludadados; a Paula do riso brejeiro e do sexo fácil. A Paula que levo para cama ou me leva ela quando a embriaguez é de tal modo que não me recordo de quem sou nem de por quem sofro.
Vamos ao almoço. Como está sexy. Atraente. Fascinante. Toda ela mulher. Flerta com os clientes e estes com ela. É como se eu não existisse. É como se a bebé não existisse. Não estou satisfeito. Resolvo trocar galhardetes. Acuso-a de tudo e tudo o que digo é a verdade crua e nua. A falsidade. As traições. A maneira de me tratar como se fosse a sua marionete. O calculismo. O despudor.

Ela não gosta. A briga é feia. Pesada. Trata-me desdonhosamente. Grita comigo, que nunca mais me quer ver, que nunca me pediu nada, que nunca me mentiu sobre os seus “amigos”. Que se não goste que me mude. Esta também é a verdade. Cinzenta, cinzentona e comezinha, mas esta é também uma das faces da “nossa” verdade. Não quero saber. Estou possesso e insulto-a, só para ver a reacção. Resolve ignorar-me. Não diz nada. Veste uma cara fria, gelada, e já a minha determinação se esvai e ela é de novo a minha princesa das mil e uma noites, a minha vida, o meu encanto, a minha graça e a minha vontade.
À tarde. Peço desculpas. Procuro desajeitadamente a sua mão, mas foge-me. Renego tudo o que disse. Renego a verdade, tão convictamente a renego. Mas também, o que renego eu? O amarelo-canário das minhas peúgas ou o rosa escarlate do seu vestido? A verdade? Que se lixe.
Finalmente, perdoa-me e fazemos as pazes. Regressamos a Lisboa. A auto-estrada corre por baixo de nós, enrolada numa tagarelice toda molenga e sorna. Ela é só mimos. Afaga-me o pescoço, vitoriosa. Resolvo sair num atalho qualquer e estaciono num miradouro. Quase louco já as minhas mãos se perdem na floresta dos seus cabelos. Trémulo, beijo-a e é uma explosão de sentidos por todo o meu corpo. Ela sabe-o e encosta-se mais a mim, enpurra os meus lábios para os seus seios. Chupo-os avidamente e aperto-lhe os bicos, fazendo-a gemer. A intensidade do nosso amplexo não tem limites. Agora sei tudo. Estou perdido, não há nada a fazer. Afasto-a com brusquidão, com uma certa violência, até, mas não diz nada. Como é sábia. Dá-me um beijinho...
Recomponho-me e ela puxa as alças do vestido, devagar, provocante, fazendo-me engolir em seco. Mesmo depois do Amor continuo consumido pela ânsia da posse. Viro-me para o lado e detenho-me a contemplar a paisagem. Que bonito que isto é. Como se chamará? E o que é que isso interessa? Que interessa como se chamam as coisas? O que interessa é que é bonito e isso devia bastar. Mas não. Nunca basta.
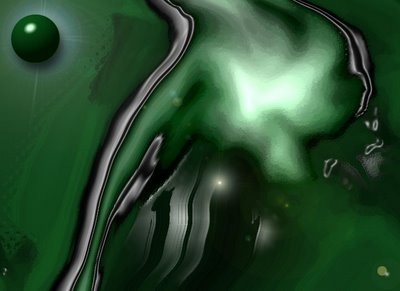
Telefona o Jorge Silva. Que continua bem. Algures no Mar Báltico. Arranjou uma namorada russa. Óptimo, penso eu. Ao meu lado a respiração dela está alterada. Faço de conta que nem noto. Estou-me nas tintas.
“Então e depois Jorge, para onde partes?”
“Para Murmansk, para Murmansk Manuel. E tu, diz-me, como estás?”
“Olha, eu....”
Ela acende um cigarro, nervosamente, muda a estação da rádio.
“Eu – cá estou – grávido.”
“Hum... parece realmente grave. Pois... Fica bem Manuel, não abuses dos lisos e assim que puderes vem ter comigo a Murmansk!”
“A Murmansk, Jorge!!!”
“A Murmansk, Manuel!!!” E desligámos.
......................................................................
Nunca fui ter com o Jorge a Murmansk. O que foi uma pena, pois por lá tudo é branco, branquíssimo a perder da vista. Mas agora já não interessa. Ele nunca soube da Inês, a filha deles que nasceu quase há 10 anos num dia sete de Dezembro.
Poucos dias depois, parti para bem longe e nunca mais a vi, ela não me que queria ver e eu não as queria ver a elas. Mas ao escrever estas linhas sinto que nunca a vou esquecer. Por muito que faça, por muitos sítios onde ainda vá, por muito que ainda viva. Naquele dia sete um pedaço de mim morreu.
Lisboa, 28 de Abril de 2004
PS-Esta é uma história de ficção qualquer semelhança com eventos ou pessoas reais é pura coincidência








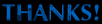
|